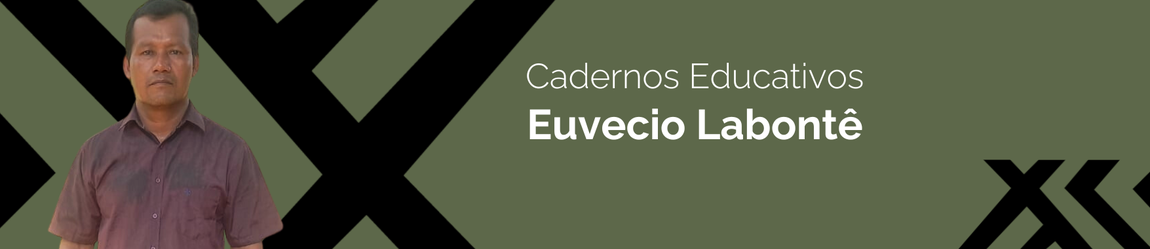Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (CLII) - Universidade Federal do Amapá (Unifap)
Os trabalhos apresentados a seguir, fruto de ampla pesquisa e atuação docente, foram desenvolvidos no âmbito do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (CLII), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em conjunto com docentes indígenas que atuam nas escolas indígenas do Amapá e norte do Pará.
O CLL teve início em 2007. Nesta longa e bonita trajetória, trabalha, conjuntamente, com povos do Oiapoque: Galibi-Marworno, Galibi-Kalinã, Karipuna e Palikur-Arukwayene, povos do Parque do Tumucumaque: Apalai, Waiana, Tyrió e Kaxuyana e o povo Waiãpi, sendo espaço marcante para transformações importantes na região.
Os textos a seguir trazem histórias de vida e trajetórias docentes, pesquisas de trabalho de conclusão de curso, registros de conhecimentos ancestrais.
O texto de Euvecio Santos Labontê é intitulado “Qual(is) língua(s) você fala? Crenças e atitudes linguísticas dos estudantes Palikur-Arukwayene na Escola Moisés Iaparrá, Aldeia Kumenê”. É fruto de sua pesquisa para a conclusão do curso e busca contribuir com seu povo e o campo da educação intercultural no Brasil.
Boa leitura!
Qual(is) língua(s) você fala? Crenças e atitudes linguísticas dos estudantes Palikur-Arukwayene na Escola Moisés Iaparrá, Aldeia Kumenê
Akavuska: o começo
Sou Euvecio Santos Labontê, indígena do povo Palikur-Arukwayene, morador da Aldeia Kumenê. Nasci no dia 30 de janeiro de 1985, em uma ilha bem pequena, perto da Aldeia Mawihgi, que é uma aldeia muito antiga, onde minha família vive há muitas gerações, desde os tempos do avô do meu avô.
Trago uma imagem dessa ilha bem pequena, do lado da Aldeia Mawihgi, onde, primeiro, meus pais viveram. Naquela ilha ocorreu meu nascimento no ano de 1985.
Imagem atual da pequena ilha onde nasceu o autor.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
A Aldeia Mawihgi é localizada em uma ilha pequena, próxima à margem do rio Urucauá. Antigamente, muitos Palikur-Arukwayene moravam nessa ilha, mas, com o tempo, quase todas as famílias mudaram para a Aldeia Kumenê, que se tornou a aldeia sede do meu povo.
Restou apenas uma família, a do senhor Uwet, cujo nome em português é Manoel Antônio dos Santos.
Uwet é meu avô, pai da minha mãe, Maria Rita dos Santos.
Ele foi um grande mestre da arte e do conhecimento do povo Arukwayene, tendo sido criado pelo avô dele, Lexan, grande pajé e mestre da cultura do povo Palikur. Lexan foi quem ensinou ao meu avô Uwet a arte de esculpir os bancos em madeira, uma tradição do meu povo, em especial, da minha família.
Mestre Uwet, grande sábio, meu avô.
Fonte: Acervo do NUKEPA
Meu pai é Eugênio Labontê, filho de Felisberto Labontê e Luíza Batísta, meus avós paternos, que também moravam na Aldeia Mawihgi. Eles faleceram quando meu pai tinha apenas cinco anos. Por isso, ele foi criado por sua irmã mais velha, Rosa Labontê, e o marido dela, José Leon. A irmã de meu pai cuidou dele até meu pai completar 20 anos de idade, mas ele não ficou na Aldeia Kumenê. Meu pai migrou com a família da irmã para Macouria, na Guiana Francesa. Foi lá que ele cresceu, tendo retornado ao Urukawa já adulto.
Eu fiz a genealogia da minha família em forma de árvore para mostrar os meus antepassados, até onde consegui lembrar. No desenho a seguir mostro meus ancestrais. E, também, meus descendentes, porque sou casado desde meus 21 anos com Ginilza Orlando, minha esposa, com quem tive quatro filhos: Adriano Orlando Labontê (18 anos), Viviane Orlando Labontê (15 anos), Guilda Orlando Labontê (14 anos) e Juliano Orlando Labontê (8 anos). Meu filho Adriano ficou muito doente e nos deixou, e isso foi motivo de muita tristeza para mim.
Foi na Aldeia Mawihgi que eu primeiro vivi, junto com meus pais. Mas quando eu tinha a idade de dois anos, meus pais decidiram mudar de lugar, me levaram para a Aldeia Kumenê, onde havia mais pessoas e já existia escola para estudar. Naquela época, nas aldeias menores, não existia escola. Por isso, cresci na Aldeia Kumenê, para que eu pudesse estudar na alfabetização.
Quando iniciei na escola, havia uma turma de manhã e uma de tarde. Naquela época também tinha merenda para os alunos, mas era oferecida pelos pais dos alunos. A merenda era de banana, macaxeira, abacate, cana-de-açúcar, acará, peixe salgado e farinha para comer com peixe. Para fazer merenda para os alunos, o professor mandava uma carta na mão do aluno, para ele entregar para sua mãe. Assim ela sabia qual o dia em que ela devia ir preparar a merenda para os alunos, cada mãe de aluno fazia merenda um dia, porque naquela época não havia merendeira para fazer merenda. Então era desse jeito que funcionava naquela época. Também naquele período, os alunos estudavam direto a 1ª série, não tinha alfabetização, nem pré-escola, como hoje.
Meu pai me matriculou na escola para estudar quando eu tinha a idade de seis anos. Na época, só havia dois professores indígenas atuando na Escola Indígena Moisés Iaparrá: José Passinho Ioiô e Tamar Ioiô. Ainda hoje eles são professores nessa mesma escola, mas eu nunca fui aluno da professora Tamar Ioiô. Meu professor era o José Passinho. Ele ensinava a ler e escrever as vogais, o alfabeto e a desenhar as figuras dos animais no papel. Passei muita dificuldade no estudo. Eu não sabia escrever, nem sabia ler, porque meu pai não tinha estudo para dar conselho para mim. Fiquei como se fosse sozinho. Não tinha família para me ajudar a fazer minha atividade em casa. Às vezes não ia estudar porque não conseguia fazer minha atividade. Não tinha interesse de estudar. Não entendia nada sobre estudo. Meus pais só sabem falar nossa língua parikwaki, não sabem falar português. Por isso eu também não sabia falar português, essa língua sempre foi muito difícil para mim. Falar.
Meu professor também ensinava a respeitar os colegas, a não mexer no caderno dos outros. Quem chegava atrasado tinha que pedir licença para o professor antes de entrar na sala de aula. Não podia entrar sem pedir licença. No começo da aula o professor chamava os alunos pelo nome, para preencher a folha de frequência e registrar quem faltava ao dia de aula. O professor ensinava os alunos a coordenação motora grossa e fina, também ensinava os alunos a ler junto com ele, em português. A leitura era de vogais, alfabeto, encontros consonantais e dígrafos. Todos os alunos tinham que ir acompanhando o professor na leitura, todos tinham que ler junto com o professor, quem não lia pegava “faxina”, que era o castigo de limpar a sala. E, depois, permanecer em pé durante toda a aula para que, segundo costume da época, no outro dia o aluno se esforçasse mais e conseguisse ler. Faxina é um termo comum entre os povos indígenas do Oiapoque para indicar um castigo imputado ao indígena. Consiste, a princípio, na limpeza da comunidade, mas pode ser também outro tipo de trabalho braçal, sempre com a finalidade de prestação de serviço para a coletividade, ainda hoje a faxina é usada como punição.
Naquela época, o professor era muito rígido nas séries iniciais, muitos alunos ficavam de castigo por causa que ainda não conheciam o que significava vogais e consoantes. O professor Passinho era falante fluente da língua parikwaki. Às vezes falava em português também, mas a conversa do professor com os alunos era somente na língua materna. Agora, a leitura e escrita era na língua portuguesa, porque as aulas eram de português, não tinham aulas de língua materna. Não estudávamos a nossa língua. O professor só falava na língua para explicar os assuntos. O meu aprendizado era lento na escola, mas consegui concluir a 1ª e 2ª séries com o professor Passinho, enquanto a 3ª série e 4ª séries estudei com a professora Celi Rodrigues, que não era indígena e trabalhou dez anos entre nosso povo.
A professora Celi ensinava tudo na língua portuguesa. Então, ficou muito difícil para mim, pois a professora não falava minha língua. Eu fiquei com muito medo de estudar porque não conseguia entender a língua portuguesa. A professora Celi ensinava os alunos a fazer leitura e interpretação de pequenos textos do livro. Isso me deu muito medo, pois não sabia falar português nem sabia ler e interpretar texto. A professora Celi ensinava os alunos diferente do professor Passinho. A diferença era que ele era um professor indígena, falava nossa língua materna, ensinava em duas línguas, enquanto a professora Celi era não indígena, não sabia falar a língua parikwaki. E quando os alunos não entendiam o assunto e ficavam com dúvida a professora não sabia traduzir na língua indígena. Já o professor Passinho fazia a leitura com os alunos e pedia aos alunos para interpretar. Quando o aluno não sabia interpretar, ele ajudava a interpretar na língua materna, para que o aluno pudesse entender como interpretar o texto, isso fazia a diferença entre o ensinamento da professora Celi e do professor Passinho naquela época.
Quando estudei com a professora Celi Rodrigues fiquei três anos estudando na 3ª série. Não comparecia todos os dias na escola e fiquei com muito medo de estudar. Fiz a 1ª e 2ª séries com o professor Passinho. Depois estudei a 3ª e 4ª séries com a professora Celi. Demorei muitos anos para alcançar a 5ª série porque sempre levava dois ou mais anos por série. Não lembro quantas vezes tive que refazer cada uma delas, mas o fato é que, quando eu consegui chegar na 5ª série, já tinha 15 anos.
Fiz a segunda parte do Ensino Fundamental por Etapas, que iniciei em 1999, com os professores não indígenas que lecionavam na escola antiga, o antigo prédio da Escola Moisés Iaparrá, bem ao lado da pista de pouso. Continuei a passar as mesmas dificuldades que vivenciei da 1ª a 4ª séries, pois eu ainda não sabia ler os textos do livro, muito menos interpretar tais textos. Para dificultar, todos os meus professores eram não indígenas e todas as aulas em português. Não tínhamos aula de língua materna e cultura indígena, como ocorre hoje na escola. Lembro que estudei com um professor de língua portuguesa chamado José Antônio da Silva, que me estimulava muito a ler. Todos os dias ele me chamava para ler para a turma antes de começar as aulas. Com este professor comecei a aprender a leitura e entender melhor a língua portuguesa, pois ele conseguiu fazer com que eu superasse dificuldades que eu tinha na infância, como o medo de falar português na frente dos colegas.
Passei muita dificuldade ao estudar o Ensino Fundamental com os professores não indígenas. Naquele tempo eu ainda não sabia ler, nem sabia fazer a pontuação na escrita. Fiquei muito assustado, quase desisti do meu estudo no Ensino Fundamental. Já estávamos no ano 2000, eu tinha a idade de 15 anos. Fiquei anos estudando a sexta série, até completar 20 anos. Foram quase 06 anos estudando para completar o Ensino Fundamental, isso por causa de pendências nas disciplinas. Entre os Palikur-Arukwayene, a Educação Escolar do Ensino Fundamental e Médio, ainda hoje, é ofertada pelo Sistema Modular de Ensino Indígena (SOMEI), na forma de módulos. Assim, os alunos cursam blocos de disciplinas, distribuídas em períodos que, geralmente, são de 50 dias. Dada a carência de professores, a falta de estrutura das escolas e de recursos do Estado, infelizmente, é comum que os módulos não sejam ofertados em dados períodos, fazendo com que os alunos fiquem anos na mesma série ou “devendo” alguma disciplina que os impede de seguir aos níveis escolares subsequentes.
Depois, cumpri as disciplinas com os outros professores não indígenas, até terminar as pendências das disciplinas e conseguir ir para o Ensino Médio. E, também, passei dificuldade com os professores das outras disciplinas, como Matemática, História, Geografia e Ciência. Sempre tinha a questão da língua portuguesa, que é como uma barreira que eu tenho na vida, que sempre enfrento no meu estudo.
Minha dificuldade com a língua me deixava nervoso para fazer a explicação do meu trabalho na frente dos colegas, mas, pelo meu esforço de estudar, participei de todas as disciplinas, mesmo com dificuldade. Na Matemática, compreendia apenas o cálculo de adição, subtração, multiplicação e divisão, porque a Matemática ensina sobre os números, como conferir a quantidade e medir tamanho por escrito, que são os números.
Quando chegou o módulo do Ensino Médio, fiquei pensando se iria estudar, estava receoso por causa da dificuldade com a língua portuguesa. Eu sabia que a aula do Ensino Médio era mais complicada, ainda mais do que o Ensino Fundamental. No Ensino Médio havia uns professores que já tinham trabalhado na nossa Aldeia. Eles já me conheciam e mandaram recado para eu ir estudar, que era para não perder aquela oportunidade. Então, eu fui!
Logo ao chegar na sala de aula, o professor pediu para me apresentar, dizer quem eu era e o que eu vinha buscar no Ensino Médio. Ele queria saber o que eu esperava quando terminasse o Ensino Médio. Nesse momento assustei muito, quase chorei, não conseguia olhar para os meus colegas. O professor pediu duas vezes, mas não me levantei. Na terceira vez, me levantei e fui me apresentar. Suei muito antes, com medo de falar. Nem falei muito, porque eu não sabia falar português. Mas tentei falar um pouquinho sobre quem sou eu e o que eu vinha buscar no estudo de Ensino Médio. Terminei minha apresentação com muito suor no meu rosto. Na época do meu estudo no Ensino Médio, não havia estudo da minha língua e nem a disciplina Língua Materna, como tem hoje no currículo escolar.
No Ensino Médio comecei a perceber que havia três pontos importantes que eu deveria fazer e aprender: leitura, interpretação de texto e participação nas aulas, através de perguntas. Então eu peguei um livro e ficava lendo, lendo, lendo, até conseguir fazer a leitura toda dele. Era um livro de português do 6º ano. Quando eu terminava o texto começava de novo, para poder fazer a interpretação, até eu conseguir entender o texto. Eu também tirava as perguntas desse livro, para fazer aos meus colegas e ao professor. Isso me ajudou muito. Até hoje este livro está comigo, na minha casa.
Em 2006, ainda estava cursando o Ensino Médio, pois havia disciplinas pendentes de oferta por falta de professores. Nesse período, sem aulas, fiquei quatro meses trabalhando na roça, ajudando meus pais e fazendo farinha. No início de 2007, o diretor da Escola Moisés Iaparrá – finado professor Ivanildo Gomes – reuniu com a comunidade e passou a informação que haveria seleção para o Magistério Indígena. O diretor avisou que os alunos que tinham concluído o Ensino Fundamental poderiam participar desta seleção. Explicou que havia poucos professores indígenas e que era necessário ter mais professores formados para atuar em sala de aula. O diretor elaborou um documento à Secretaria de Estado de Educação (SEED) pedindo que o processo acontecesse na Aldeia Kumenê e eu pensei em me inscrever, pois, talvez, conseguisse passar na prova para estudar no Magistério Indígena. A prova foi aplicada na aldeia pela equipe do Núcleo de Educação Indígena (NEI) da SEED. Fiz a prova, passei e fiquei muito contente.
O curso do Magistério Indígena começou em março de 2007. No começo foi bom, havia professores, materiais didáticos eram entregues para os alunos – cadernos, canetas, lápis e apostilas – e não faltava merenda, por isso não havia nenhuma confusão com os alunos e todos compareciam às aulas. Mas, logo no segundo módulo, os professores quase não vieram por falta de recursos. A merenda foi comprada pelos próprios alunos, que fizeram coleta para adquirir sua alimentação. Alguns colegas desistiram de estudar.
Imagens de atividades durante o Magistério Indígena na Aldeia Kumenê, 2008.
Fonte: Acervo pessoal do autor.
No terceiro módulo, a SEED não disponibilizou recursos para os professores irem até a aldeia dar aulas para os alunos. Foi preciso que o diretor Ivanildo fizesse documento e enviasse ao NEI, solicitando a continuação das aulas do Magistério na aldeia. Contudo, somente os professores foram enviados, não havia recursos para alimentação e materiais para estudar. Muitos colegas foram desistindo porque as aulas eram o dia todo e, sem merenda, precisavam plantar, fazer farinha, caçar e pescar para se alimentar e às suas famílias. Esses foram problemas de falta de apoio da SEED que enfrentamos para concluir o Magistério.
Apesar das dificuldades, os professores do Magistério eram excelentes educadores, tinham muita paciência, explicavam o assunto de forma bem clara, ensinavam como seria um professor atuando na sala de aula, o modo de conviver com os alunos durante as aulas. Um professor tem que ter prática e ser pesquisador, tem que estudar e montar seu plano de aula buscando novas estratégias e metodologias de ensino. O professor deve estudar para ampliar seu conhecimento, ler vários livros para que consiga dominar o assunto que irá ensinar. O professor não pode ficar sem estudar seu plano. Também não pode chegar na sala de aula, encher o quadro com escrita sem explicar o assunto, pois isso acaba deixando os alunos cheios de dúvidas. No Magistério Indígena, aprendemos muitos pontos importantes sobre ensinar os alunos na sala de aula. Estudamos metodologias para ensinar os alunos, mas nós não fomos ensinados a dar aula na nossa língua materna, somente em português. Por isso precisamos estudar sobre a nossa língua, para sermos preparados para dar aula sobre a nossa língua.
Eu, como professor das séries iniciais, sinto falta de formação continuada para trabalhar com a área específica de Língua Indígena, para que eu possa ter uma melhor experiência de ensino em sala de aula. Atualmente, a Língua Indígena entrou na grade curricular como uma disciplina, mas nós, professores indígenas que somos falantes da nossa própria língua, não temos ainda formação específica em nossa língua para poder ensinar alunos do 1º ao 5º ano. Nós, professores indígenas, temos dificuldade de ensinar nossos alunos porque ainda não temos conteúdo específico na nossa língua parikwaki. Não temos grade curricular na língua, nem materiais didáticos que nos ajudem a ensinar sobre a nossa língua, como temos para ensinar português: gramática, dicionário, vários livros escritos na língua. Isso nós precisamos para poder ensinar na nossa língua.
Como aluno do Magistério, também passei muita dificuldade por causa da língua portuguesa. Naquela época, eu já sabia fazer leitura, mas não conseguia explicar em português. Esta era uma grande barreira que ocorreu comigo durante o estudo do Magistério Indígena. Foi muito difícil também porque as aulas eram de manhã, tarde e noite. E eu tinha que sustentar minha família. Para poder estudar, acordava às três horas da madrugada e ficava pescando no rio até amanhecer, para poder ter alimentação em casa. Passei grandes dificuldades durante meu primeiro ano de formação como professor.
Em 2013, terminei o Magistério Indígena e recebi meu certificado de conclusão do curso. Alguns colegas do Magistério foram chamados para assumir turmas das séries iniciais na minha aldeia, mas eu não fui convidado, por isso fiquei quatro anos trabalhando na roça. Então, eu pensei em ir trabalhando e guardando dinheiro para um dia me inscrever na Licenciatura Intercultural Indígena, para poder estudar mais. Eu ainda não era professor, mas pensava em ajudar a comunidade e ensinar meus filhos para que eles não caíssem na mesma situação que eu passei na minha infância. Por isso eu queria ir para a Universidade, para buscar novos conhecimentos no ensino superior, para avançar nos conhecimentos que obtive no estudo do Magistério.
Eu ingressei no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (CLII) no ano de 2016. Estudei janeiro e fevereiro. No CLII aprendi mais sobre aspectos da nossa cultura, que estamos perdendo. Também adquiri conhecimentos que nunca tinha estudado no Ensino Médio. As disciplinas que estudei na Licenciatura Indígena me fizeram lembrar da minha cultura antiga, que nossos avós contam do passado, como era nossa cultura antiga, principalmente na área de Linguagens e Códigos. Aprendi sobre fonética e fonologia, as duas áreas que estudam os sons da língua. A fonética é o estudo dos sons da língua e a fonologia estuda como os sons se combinam. Através da fonética aprendi sobre vibração, os sons que vibram as cordas vocais. Também estudei a cavidade oral e a cavidade nasal. Aprendi também sobre fonação, que o processo de fonação é a produção de energia pelos movimentos vocais. Também estudei sobre entonação. No estudo de fonética aprendi sobre transcrição da fala, sobre símbolos da fonética: oclusiva bilabial desvozeada [p] e oclusiva bilabial vozeada [b]. Também aprendi sobre vogais fechadas e vogais abertas.
Na área de linguagens também estudei sobre o léxico, sintaxe, morfologia e semântico. Também estudei sobre o verbo. Aprendi o que é sufixo, afixo, prefixo e os verbos transitivo e intransitivo na minha língua. E, também, estudei sobre política de revitalização cultural e linguística. E a situação das línguas em perigo. Aprendi que a minha língua é um patrimônio imaterial! Estudei também sobre língua morta, língua adormecida e língua reviva. Aprendi mais sobre variação linguística, que fala sobre variação das palavras ou variações dialetais, variações na língua de caráter local, temporal e social. Aprendi que todas as variações devem ser encaradas como fatos de enriquecimento e cultura, não como erros ou desvios das línguas e outros.
Todo esse conhecimento aprendi com os professores da Licenciatura, mas também passei muita dificuldade de entender o assunto ministrado pelos professores, porque a aula da Licenciatura é mais complicada ainda de explicar e de entender. E nós, Palikur, como não somos falantes da língua portuguesa, fica complicado para nós nos expressarmos em português na hora de explicação. Às vezes a gente entende, mas não consegue expressar em português, porque o texto vem todo digitado e com palavras técnicas. Nesse sentido, para nós, Palikur, que não temos domínio do português, fica muito complicado. Às vezes, o texto não é difícil, dá para entender a explicação, mas a gente não consegue se expressar em português. Essa é uma grande barreira e dificuldade pra nós, os estudantes do povo Palikur- Arukwayene.
Homens palikur cavando a terra para plantar maniva.
Prédio antigo da Escola Indígena Estadual Moisés Iaparrá, 2020.